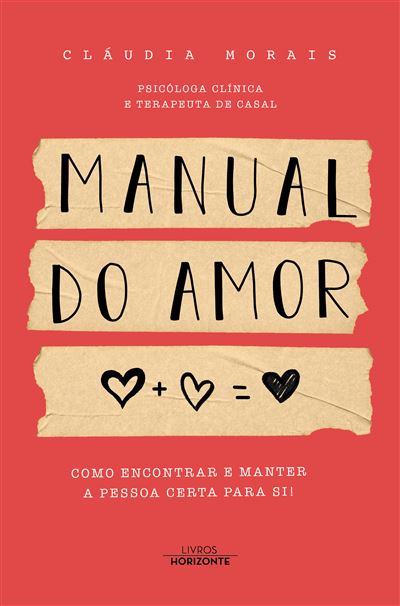Para quem não sabe, qualquer processo terapêutico no meu consultório começa com um telefonema – momento em que é feito o “pedido de ajuda”. Nessa altura, são recolhidas informações que permitam preparar a primeira consulta. Deste modo, nós, terapeutas, tentamos contextualizar as dificuldades da pessoa/do casal/da família em causa e perceber até que ponto podemos ser úteis. Por outro lado, este primeiro contacto com a natureza dos problemas permite-nos, caso seja necessário, efectuar mais algumas leituras.
Foi exactamente isso que aconteceu aquando do primeiro pedido de ajuda feito por um casal de “swingers”. Confesso que, na altura, nem eu nem o meu co-terapeuta estávamos muito familiarizados com as regras que envolviam esta prática.
As leituras entretanto efectuadas e a experiência clínica permitiram-me conhecer um pouco melhor o conceito.
Ao contrário do que muitas pessoas pensarão, este não é um fenómeno recente. Em Portugal existem casos cujo início remonta aos anos 70 (do século XX) e nos Estados Unidos as primeiras descrições sobre o tema terão surgido nos anos 50/60.
Os casais que aderem ao swing mantêm relações sexuais com outros casais (troca de parceiros) sem investirem em laços emocionais. Não praticam a monogamia do ponto de vista sexual, mas assumem-se como monogâmicos ao nível emocional.
Os estudos efectuados com casais swingers têm demonstrado que estas pessoas encontram neste “estilo de vida” uma forma honesta de explorarem as suas fantasias – experimentando novas “técnicas” com diferentes parceiros. Além disso, e provavelmente ao contrário do que seria de esperar, revelam que esta prática promove a atracção sexual entre os membros do casal e que os níveis de ciúmes são mais baixos do que nos casais
Como tudo é feito “as claras”, estes casais manifestam-se mais satisfeitos com o seu casamento quando comparados com a restante população. De facto, o swing não pode ser confundido com infidelidade.
Mas isto não significa que o swing possa ou deva ser adoptado por todos os casais. Antes de mais, importa referir que a maior parte dos estudos efectuados basearam-se em amostras de swingers “de longa data”, ou seja, pessoas que se sentem satisfeitas com a opção feita. Não existem, por isso, dados relevantes sobre os casos em que as coisas não correram bem – por exemplo, os casais que romperam depois da experiência ou os casais que passaram por experiências negativas.
Infelizmente, são estes os casos que mais frequentemente chegam aos consultórios de terapia familiar/conjugal.
Uma das regras de ouro do swing implica que os membros do casal devam estar de acordo quanto a esta opção. Ora, isto nem sempre é assim. Por exemplo, algumas mulheres sentem-se pressionadas pelo marido/companheiro e acedem, numa tentativa desesperada de salvar a relação. A experiência, nestes casos, é, em geral, traumatizante.
Embora a maior parte dos swingers refira que este hábito permitiu aumentar a sua satisfação conjugal, quase todos estarão de acordo numa coisa: o swing não transforma um mau casamento num bom casamento. Muito menos se um dos membros do casal for pressionado para tal.
Outro dado negativo em relação ao swing diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis. Actualmente a maior parte destes casais usa o preservativo, no entanto, a realidade nem sempre foi assim.
Conheci uma mulher cujo relato me impressionou bastante: como iniciou esta prática nos anos 70, foi internada várias vezes com infecções do foro ginecológico – algumas mais graves do que outras. Além disso, como ia parar às mãos dos mesmos médicos, chegaram a perguntar-lhe se era prostituta.
Nos anos 80, com o aparecimento da SIDA, alguns casais abandonaram esta prática. Mas o “sexo seguro” permitiu que ela se reimplantasse e hoje existem pequenas comunidades espalhadas pelo mundo.
São pessoas como as outras. Aliás, a amálgama é tão grande que se torna impossível descrever estas pessoas ou inclui-las numa taxinomia. O swing é praticado por pessoas mais liberais, outras mais conservadoras, e até por pessoas que frequentam a Igreja. Algumas são novas, outras nem tanto. Algumas são surpreendentemente “maduras”.
Como seriam alvos fáceis em termos sociais e familiares, mantêm a discrição. Interrogo-me, no entanto, acerca do peso dos constrangimentos educacionais dos próprios relativamente a esta matéria. Por exemplo, muitos destes casais transmitem aos filhos valores convencionais, como a ideia de que a sexualidade é uma componente indissociável do amor romântico.
Estarão, então, as relações amorosas, tal como as conhecemos, em risco? Acredito que não. Como terapeuta conjugal, continuo a trabalhar sob o paradigma tradicional, segundo o qual a intimidade sexual é indissociável da intimidade emocional. A maior parte dos casais felizes “funciona” neste formato. Mas tenho a obrigação de respeitar as outras opções.