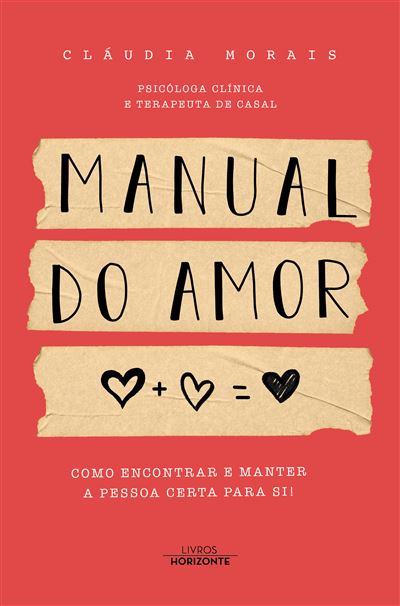Se há um elemento comum a praticamente todos os processos terapêuticos em que me envolvo é o exercício terapêutico a que chamo “Eventos de Vida”. O desafio, que tanto pode ser colocado a alguém individualmente como em sede de terapia familiar, consiste em identificar todos os eventos emocionalmente significativos que compõem a vida daquela(s) pessoas – desde o nascimento até à actualidade.
Passar para o papel ou para o computador os grandes marcos da nossa vida (positivos e negativos) pode envolver algum esforço de memória, sobretudo se tivermos em consideração que quem procura um psicólogo está, na maioria das vezes, demasiado emaranhado nas dificuldades recentes e pouco motivado para olhar para trás. Descobrir marcos emocionalmente positivos, experiências verdadeiramente agradáveis, pode mesmo revelar-se uma tarefa difícil.
Como não se pretende que o exercício seja concretizado em três tempos, mas antes com calma e reflexão, a síndrome da folha em branco raramente acontece. Escrever sobre a nossa vida, sobre os marcos que a compõem e que contribuíram para aquilo que somos hoje é uma tarefa enriquecedora. Não tanto pelos factos, mas sobretudo pelas emoções a eles associadas. Escrever sobre aquilo que sentimos aquando de cada marco e/ou sobre as consequências emocionais que daí resultaram contribui para um melhor entendimento sobre nós próprios.
A estruturação de pensamentos e emoções acerca daquilo que nos perturba, fragiliza ou vulnerabiliza contribui para a nossa inteligência emocional porque nos torna mais conscientes daquilo que somos, do que queremos, do que precisamos.
Por outro lado, o exercício proporciona a descentração relativamente à actualidade e às crises mais recentes, “forçando-nos” a identificar os obstáculos já ultrapassados, as alegrias vividas e as vitórias entretanto alcançadas. Ainda que tudo isto faça parte de um passado demasiado longínquo, são os “nossos” marcos e hão-de ser sempre significativos.
A nossa história emocional condiciona – e muito! – a forma como vivemos as nossas relações. Como poderemos exigir que aqueles que amamos respeitem as nossas vulnerabilidades se não as tivermos “arrumado” na nossa cabeça? Como poderemos ser bons pais se insistirmos em varrer para baixo do tapete as emoções associadas a eventos traumáticos ocorridos na própria infância?